INTERESSE DA CRIANÇA
Aluna: Marlla Mendes de Sousa
Orientador: Frederico do Valle
Resumo
Este trabalho é fruto de uma pesquisa
doutrinária e jurisprudencial e tem como
objetivo analisar a evolução da família
dentro da sociedade brasileira, reavaliar o
papel dos pais na educação da prole,
rediscutindo os modelos de guarda no
Direito e apresentar a guarda compartilhada
como modelo inovador, que tem como
finalidade manter maior proximidade dos
genitores aos filhos, mesmo após a
separação judicial ou o divórcio, sem deixar
que a criança perca o referencial de pai e
mãe ou quebre o elo de afetividade,
proporcionando assim, um ambiente de paz
e harmonia para o crescimento de uma
criança saudável e feliz.
Palavras-chave: Guarda. Proteção. Menor.
Poder Familiar. Guarda Compartilhada.
1
INTRODUÇÃO
A família é considerada a célula mater da sociedade. É nela que o homem
adquire os primeiros referenciais morais e éticos de conduta, e onde inicialmente baseia-se
a formação do caráter de cada indivíduo.
A família, como instituto, tem o papel de proporcionar o bem-estar e todas
as condições necessárias para o desenvolvimento saudável da criança, tanto no aspecto
moral, físico, intelectual e psicológico. Maria do Rosário Leite Cintra ainda acrescenta:
A família é o lugar normal e natural de se efetuar a educação, de se aprender o
uso adequado da liberdade e onde há a iniciação gradativa no mundo do
trabalho. É onde o ser humano em desenvolvimento se sente protegido e de
onde ele é lançado para o mundo e para o universo.1
O direito de família, ao longo da história, sofreu várias transformações e a
sua evolução no direito brasileiro teve marco importante com o advento da Constituição de
1988, que reconheceu as mudanças sofridas pela sociedade, legitimando situações que já
existiam de fato e reconhecendo direitos até então ignorados pela legislação vigente.
A nova Constituição passou a enxergar a família como um instrumento de
felicidade e promoção de dignidade para cada um de seus membros, se livrando de antigos
conceitos e tabus relacionados à família, passando a ter como base o respeito e a realização
individual. Dessa forma surge como princípio norteador das relações familiares, a
afetividade, colocando o direito da felicidade individual em destaque, como conseqüência
o respeito à pessoa humana e a afirmação dos direitos fundamentais.
Em decorrência das mudanças alcançadas pela Constituição de 1988, em 13
de julho de 1990, é sancionada a Lei Nº 9.069, que passa a dispor especialmente sobre os
direitos da criança e do adolescente.
Diante de tamanha evolução, o Código Civil, que foi promulgado em 1916,
já não acompanha os princípios impostos pela nova Constituição e toda legislação esparsa
que começa a surgir. Sua base essencialmente patrimonialista e a visão patriarcal da
família não combinavam com a nova exegese. Assim, após vários anos de tramitação no
Congresso Nacional, finalmente em 2002 é aprovado o novo Código de Direito Civil,
1 CURY, Munir; Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, coordenador,. São Paulo, Malheiros,
2006, p.84.
2
trazendo em seus artigos mudanças bastante significativas para o direito de família, e
também sobre o instituto da guarda, que até aquele momento, em caso de separação dos
pais, presumia-se inicialmente ser da genitora.
O objeto desse estudo tem como idéia central analisar o poder familiar e os
modelos da guarda existentes, tanto na legislação brasileira como na legislação alienígena,
e as vantagens e desvantagens de cada um, e especialmente, os benefícios trazidos pelo
modelo de guarda compartilhada. Expor a transformação da família e os papéis
desenvolvidos pelo pai e pela mãe junto à prole, impostos pela nova rotina da família
contemporânea, e a quebra de paradigmas e conceitos ultrapassados na educação da
criança, filha de pais separados ou divorciados.
1 A FAMÍLIA
A estrutura atual da família tem como referência o direito romano que
exerceu sua influência sobre a família ocidental, tendo como características básicas a
rigidez, o patriarcalismo, e a manutenção de determinada autonomia em relação ao Estado,
pois suas relações não sofriam interferência estatal.
Waldyr Grisard Filho, em sua obra Guarda Compartilhada: um novo
modelo de responsabilidade parental 2, faz elucidações sobre a origem da família ocidental
e sua raiz no direito romano. Segundo o autor, o varão denominado pater familias, era o
chefe absoluto da família, incumbido de oficiar o culto de veneração dos penates, (deuses
domésticos). A esposa ficava à sombra do marido enquanto este decidia tudo o que se
referia à família, não tendo direito inclusive ao patrimônio. Como chefe do grupo familiar
e exercente do poder marital, o cônjuge varão possuía direitos absolutos sobre a esposa e
os filhos. Num regime completamente primitivo, o pater familias, em razão de suas
atribuições, poderia expor ou matar os filhos, ius vitae et necis, vendê-los, ius vendendi,
abandoná-los, ius expoendi, ou entregá-los a vítima de dano causado por seu dependente,
ius noxae deditio.
Posteriormente, a Lei das XII Tábuas afetou profundamente esses poderes,
que com passar do tempo reduziu-se ao simples direito de correção. A partir do século IV,
2 GRISARD FILHO, Waldyr, Guarda Compartilhada: um novo modelo de responsabilidade parental, 3. ed.
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005.
3
com o imperador Constantino, a concepção cristã da família passou a exercer grande
influência no direito romano, prevalecendo preocupações de ordem moral.
Tais feições e conceitos sobre a instituição familiar foram acolhidos pelo
direito português e trasladado para o direito brasileiro.
No ordenamento jurídico brasileiro, o Código Civil de 1916 inspirou-se no
modelo de família nuclear, heterossexual, monógama, patriarcal, ainda dominada pela
figura do pai, cujos interesses e aspirações sempre prevaleciam sobre a vontade dos demais
membros da família. No referido código, a mulher ao casar-se, tornava-se relativamente
incapaz, passando a ser assistida pelo marido nos atos da vida civil.
Somente em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, a mulher deixou de
ser relativamente incapaz, passando a ter direito sobre os seus filhos, compartilhando do
pátrio poder e podendo requisitar a guarda em caso de separação. Assim o homem deixou
de ser o chefe absoluto da sociedade conjugal, passando a mulher a ser detentora do poder
doméstico, adquirindo dessa forma um pequeno papel na sociedade familiar.
Em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal brasileira,
várias situações passam a ser reconhecidas e legitimadas pela Carta Magna, como a
igualdade entre homens e mulheres, extinguindo de vez com a submissão feminina, uma
vez que seu papel já havia sido alterado de fato na sociedade, e a sua participação no
mercado de trabalho tenha se tornado fundamental para o sustento de muitos lares.
Diante de tamanhas transformações aduz Guilherme Calmon Nogueira da
Gama:
Como negar a existência de profundas transformações no seio da família, não
somente sob o prisma externo como também, e, principalmente, levando em
conta as relações internas mantidas entre os partícipes. Ora, a visão atual e
consentânea com a realidade não pode olvidar que as uniões formadoras da
família espelham a própria formação democrática do convívio em sociedade,
sob o prisma político-ideológico, além de se fundarem em valores psíquicos e
próprios do subjetivismo humano. Os sentimentos de afeição, de carinho, de
respeito, de compreensão, de comunhão d’almas, tomam o lugar dos elementos
autoritários, tiranos, materiais, não somente nas relações entre os partícipes das
uniões sexuais, como também no tocante a prole gerada, fruto de sentimentos
tão nobres, dignos de reconhecimento.3
O modelo de família idealizado pelo Código Civil de 1916, ainda vigente no
período da promulgação da Constituição de 1988, passou a não corresponder mais com a
3 “O companheirismo: uma espécie de família”. Dissertação de Mestrado em Direito da Cidade apresentada à
Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da UERJ, 1997.
4
realidade da família brasileira. Aquele modelo fundado somente no matrimônio, no qual
havia distinção entre os filhos havidos dentro e fora do casamento, com características
essencialmente patrimoniais e patriarcais, já não serve mais para a sociedade
contemporânea. Assim, em 2002 é aprovado, pelo Congresso Nacional, o novo Código
Civil que à luz da Constituição Federal vem legitimar outros modelos de entidades
familiares além do casamento, como a união estável, ou somente pela união de um dos pais
e sua prole, (famílias monoparentais), reconhecendo direitos iguais a todos os filhos
advindos ou não do casamento. Valorizando uniões baseadas no amor e na satisfação das
necessidades de todos os seus membros.
2 DO PÁTRIO PODER AO PODER FAMILIAR
O grande civilista Clóvis Beviláqua definiu o instituto, ainda sob a égide do
Código Civil de 1916, naquela época denominado “pátrio poder” como: “o conjunto de
direitos que a lei confere ao pai sobre a pessoa e os bens dos filhos legítimos, legitimados,
naturais reconhecidos, ou adotivos”. 4
Tal conceito demonstra-se ultrapassado, uma vez que inspirado no modelo
patriarcal, principalmente se observado o tratamento discriminatório entre os filhos.
Todas as transformações alcançadas pela sociedade vieram a culminar no
fim do pátrio poder de feição romana de dominação, traduzido pela palavra “poder”, para
alcançar o sentido de proteção como hoje se reconhece. Assim, surge um novo conceito de
pátrio poder, conforme observa Waldyr Grisard Filho:
[...] o que existe é uma uniforme concepção filhocentrista, que desloca o seu
fulcro das pessoas dos pais para a pessoa dos filhos, não mais como objeto de
direito daqueles, mas ele próprio, (o menor), é um sujeito de direitos e,
consequentemente, com direito dentre outros, ao seu integral desenvolvimento,
à filiação, ao respeito, à diferença, a ser ouvido, à intimidade, à vida. 5
No Código Civil de 1916 os encargos do poder familiar eram
exclusivamente do pai, sendo admitido o exercício pela mãe somente em casos
excepcionais. A Lei Nº 4.121 de 17 de agosto de 1962, conferiu à mãe a condição de
colaboradora do pai no exercício de poder parental. Já em 1977, com a Lei nº 6.515, (Lei
4 BEVILÁCQUA, Clóvis. Direito de Família. 7a ed. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 1943. p.363.
5 GRISARD FILHO, Waldyr, op. cit. 2005. p. 34.
5
do Divórcio), tanto o pai quanto a mãe são indicados como titulares dos encargos parentais,
mesmo após o divórcio, ou após um novo casamento, de qualquer um deles.
Em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 21,
consoante ao artigo 226, § 5º da Constituição Federal de 1988, passou a determinar:
O pátrio poder será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe,
na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o
direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente
para a solução da divergência.6
Assim, percebe-se que paulatinamente a figura materna foi conquistando
seu espaço, exercendo o seu papel dentro da família, não apenas como mera colaboradora,
e sim como titular de todos os direitos e deveres referentes ao poder familiar, que antes
eram conferidos somente ao genitor.
É importante salientar que todas as atribuições do poder parental decorrem
da maternidade e da paternidade, e não do casamento ou da união estável, uma vez que tal
vínculo transcende à questão matrimonial.
Em razão da nova dimensão adquirida pelo direito de família, abandonou-se
a denominação de “pátrio-poder” e passou-se adotar “poder familiar”, expressão adotada
pelo Código Civil de 2002, o qual regulamenta o referido instituto em seu Capítulo V,
artigos 1.631 e seguintes.
Apesar da igualdade de direitos e deveres concedidos aos genitores, há
situações em que o exercício do poder familiar pode deslocar-se para apenas um de seus
titulares, conforme a previsão dos artigos 1.637 e 1638 do Código Civil de 2002:
Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a
eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum
parente, ou o Ministério Público, adotar medida que lhe pareça reclamada pela
segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando
convenha.
Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai
ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena
exceda a dois anos de prisão.
Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:
I - castigar imoderadamente o filho;
II - deixar o filho em abandono;
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 7
6 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1968. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá
outras providências. Vademecum Saraiva, São Paulo: Saraiva, 2 .ed., 2006. p. 1026.
7 BRASIL. Código Civil (2002), Vademecum Saraiva, São Paulo: Saraiva, 2.ed.,2006, p. 292.
6
Outra hipótese do poder familiar ser exercido por apenas um dos genitores
ocorre nas situações em que o filho não é reconhecido pelo pai, permanecendo apenas sob
o poder familiar exclusivo da mãe, de acordo com o disposto no artigo 1.633 do Código
Civil de 2002.
O poder familiar, via de regra, dura por toda a menoridade e a sua
suspensão ou destituição não desobriga ao genitor penalizado do dever de prestar
alimentos, uma vez que tal imposição não pode prejudicar a criança.
São ainda deveres dos pais expressos no Código Civil:
Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores:
I - dirigir-lhes a criação e educação;
II - tê-los em sua companhia e guarda;
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;
IV - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos
pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar;
V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los,
após essa idade, nos atos em que forem parte, suprindo-lhes o consentimento;
VI - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;
VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua
idade e condição. 8
Valho-me das palavras de Waldyr Grisard Filho para dar concretude ao
artigo de lei supracitado:
A guarda é a um só tempo, um direito, como de reter o filho no lar,
conservando-o junto a si, o de reger sua conduta, o de reclamar de quem
ilegalmente o detenha, o de proibir-lhe companhias nefastas e de freqüentar
determinados lugares, o de fixar–lhe residência e domicílio e, a outro, um dever
como de providenciar pela vida do filho, de velar por sua segurança e saúde e
prover ao seu futuro. Uma vez descumpridos estes, sujeita-se o titular, relapso a
sanções civis e penais, por abandono de família. 9
Depreende-se dessa forma que é obrigação dos pais, além satisfazer as
necessidades materiais, ter cuidado com a educação, transmitindo valores morais, correição
e disciplina.
Aos pais cabe a fiscalização e vigilância no intuito de oferecer uma
formação moral adequada. Todas essas atribuições conferidas aos pais permitem com que
esses possam verificar as companhias dos filhos, as pessoas com quem se relacionam
afetivamente, sendo-lhes facultado o poder de autorizar ou não o casamento do filho
menor, como também permitir o acesso a shows, filmes, espetáculos, leitura e qualquer
material exposto na mídia, de acordo com a idade cognitiva do filho menor.
8 BRASIL. Op. Cit. 2002.
9 GRISARD FILHO, Waldyr, Op. Cit , 2005. p. 45.
7
O exercício do poder familiar poderá se extinguir pelo alcance de sua
finalidade, ou seja, com a maioridade do filho, pela emancipação do filho menor ou pelo
falecimento de seus sujeitos. Porém, poderá ocorrer a privação ou desmembramento do
poder familiar por motivos diversos que vão desde o abandono, abuso de autoridade,
prática de atos contrários a moral e aos bons costumes e maus tratos, previstos nos artigos
1.637 e 1.638 do Código Civil de 2002, conforme citados anteriormente. Tais medidas já
eram previstas no Código Civil de 1916, sofrendo pequenas alterações no novo Código e
tem sua regulamentação expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente que trata o
assunto de forma ainda mais minuciosa:
Art. 129 - São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:
I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de promoção à família;
II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxilio, orientação e
tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
III - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e
aproveitamento escolar;
VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado;
VII - advertência;
VIII - perda da guarda;
IX - destituição da tutela;
X - suspensão ou destituição do pátrio poder.
Art. 130 - Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos
pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida
cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum.10
É interessante observar as medidas de proteção preconizadas pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente nos artigos acima. Os artigos supracitados deveriam ser
amplamente divulgados e suas disposições respeitadas e colocadas em prática. Há muitos
lares desfeitos por doenças como o alcoolismo, dependência química em geral, distúrbios
psicológicos ou psiquiátricos dos genitores e que se tivessem o acompanhamento
necessário, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, poderia preservar
várias famílias que não teriam seus lares desfeitos, impedindo o afastamento de várias
crianças de seus genitores.
10 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1968. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá
outras providências. Vademecum Saraiva, São Paulo: Saraiva, 2 .ed., 2006, p. 1033-1034.
8
3 A GUARDA
Uma das inovações trazidas pelo Código Civil de 2002, ao contrário do
Código Civil de 1916, a guarda passa a pertencer ao genitor que melhor condições tiver
para manter e sustentar a prole, sem denotar caráter protetivo a nenhum deles, nem ao pai
ou a mãe:
Código Civil de 2002
Art. 1583. No caso de dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal pela
separação judicial por mútuo consentimento ou pelo divórcio direto consensual,
observar-se-á o que os cônjuges acordarem sobre as guardas dos filhos.
Art. 1584. decretada a separação judicial ou o divórcio, sem que haja entre as
partes acordo quanto a guarda dos filhos, será ela atribuída a quem revelar
melhores condições para exercê-la. 11
Como foi observado, pai e mãe passaram a possuir os mesmos direitos, seja
ainda na união conjugal ou mesmo após a separação. Todavia surge daí um grave
problema, definir os critérios a serem adotados para que seja estipulada a guarda física dos
filhos menores. A lei tem como objetivo proteger os interesses do menor que, com a
ruptura do relacionamento afetivo dos pais, passa a ser vítima das mazelas provocadas pela
separação.
A criança ou o adolescente não é objeto da lide e sim uma pessoa de
direitos. Dessa forma, compete ao juiz analisar com quem deva permanecer a guarda do
menor, haja vista a necessidade de se observar qual dos genitores possui melhores
condições para assumir a guarda física. É interessante ressaltar que, muitas vezes, nem
sempre o genitor que possui as melhores condições financeiras é aquele que está
psicologicamente ou emocionalmente preparado para ter a guarda da prole, pois é
fundamental que exista um elo de afetividade e proximidade que possibilite a melhor
convivência em benefício da criança. Uma vez o lar desfeito, é presumível que a criança
receba amparo de quem sempre lhe dedicou maior afeto. Não que essa afirmação diminua
o papel do outro genitor, mas essa atitude tem por finalidade abrandar o sofrimento do
menor.
Outro fator de suma importância é a conduta dos genitores. Aquele que
pretender ficar com a guarda dos filhos menores deverá ter uma conduta moral aceitável
pela sociedade, a fim de que sirva de exemplo e possa transmitir princípios e valores
11 BRASIL. Código Civil (2002), Vademecum Saraiva, São Paulo: Saraiva, 2.ed., 2006, p. 288.
9
nobres, fundamentais a formação da personalidade e do caráter da criança ou adolescente.
Edgard de Moura Bittencourt em sua obra Guarda de Filhos elucida que:
Os pronunciamentos judiciais sobre guarda de menor devem atender a diversos
elementos e circunstâncias, que podem ser enfeixados nos seguintes pontos: o
interesse da criança, as condições de comportamento dos pretendentes à guarda
e a alterabilidade desta a qualquer tempo.12
Para a formação da jurisprudência os Tribunais têm analisado
freqüentemente a conduta irregular dos genitores:
Por vezes, nega a guarda á mãe acusada de homicídio contra o pai do menor e
de levar conduta incompatível com a moral média da macrossociedade ao
deixar-se fotografar em posições eróticas obscenas. Por outras, não nega a visita
do pai que esteja sub judice, sendo a vítima do crime de homicídio a mãe dos
menores. Outras mais, embora de mau comportamento e tendo falhado como
esposa, ao praticar adultério, sendo boa mãe, a ela deve ser conferida a guarda,
pois o interesse e bem estar do menor devem ser o tribunal maior a decidir seu
destino.13
Ao atribuir-se a guarda deverão ser levadas em consideração todas as
necessidades de pais e filhos, sendo estas balizadas pelo artigo 227 da Constituição Federal
de 1988, objetivando a solução mais justa e priorizando os interesses da prole.
3.1 Modalidades de guarda
O instituto da guarda, em razão das várias situações vividas pela família
dentro da sociedade, teve que se adaptar, vindo a sofrer algumas alterações. Assim, com a
evolução do instituto, tanto no direito pátrio como no direito alienígena surgiram vários
modelos de guarda. Waldyr Grisard Filho em sua obra, que trata sobre guarda
compartilhada, já mencionada neste artigo, analisa alguns modelos de guarda, os quais
foram elucidados abaixo de forma sucinta, colocando a essência de cada modelo segundo a
visão do autor:
3.1.1 Guarda Comum
12 BITTENCOURT, Edgar de Moura, Guarda de filhos. São Paulo: Universitária do Direito, 1984, p. 70-71.
13 Revista dos Tribunais, v. 724 , São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. p. 414-417.
10
A guarda comum vem a ser justamente a guarda natural, decorre do poder
familiar originado com a maternidade, a paternidade e o convívio diário com os filhos, esse
tipo de guarda ocorre na constância do casamento ou da união estável. É tida também
como guarda originária.
3.1.2 Guarda Desmembrada e Delegada
A guarda desmembrada do poder familiar ocorre com a intervenção do
Estado, por meio do Juizado da Infância e da Adolescência o qual vem outorgar a guarda
àquele que não detém o poder familiar para que haja a devida proteção do menor. É ao
mesmo tempo uma guarda delegada, pois é exercida em nome do Estado por quem não tem
representação do menor ou adolescente.
3.1.3 Guarda Derivada
Trata-se de uma modalidade de guarda que decorre de um outro instituto do
Código Civil, pois é proveniente daquele que exerce a tutela do menor, (artigos 1.729 a
1734 do CC). Pode ser exercido por particulares ou por um organismo oficial, seja de
forma dativa, legítima ou testamentária.
3.1.4 Guarda Fática
A guarda fática origina-se quando alguém toma para si todas as
responsabilidades e cuidados de uma criança ou adolescente sem que exista vínculo da
maternidade ou paternidade, de forma também a não comunicar o Estado. Em razão desse
último, não há como ser feito um acompanhamento ou avaliação da relação efetivamente,
mas existindo a assistência e a educação é constatada o vínculo jurídico que só será
desfeito por decisão judicial em benefício do menor.
Jurisprudencialmente verifica-se ser muito comum o reconhecimento de
guardas originadas do fato.
3.1.5 Guarda Alternada
11
Trata-se de um modelo da guarda bastante criticado, justamente pela forma
que é aplicado. A guarda alternada consiste em fixar períodos em que a criança estará ora
na companhia da mãe, ora na companhia do pai, vindo inclusive a cada período mudar de
casa.
A polêmica causada por esse modelo está justamente no ponto em submeter
o menor a hábitos diferentes, uma rotina instável, mudanças de valores, padrões que
implicam na formação da personalidade, pois gera uma instabilidade psíquica e emocional.
3.1.6 Aninhamento ou Nidação
Este modelo é parecido com o modelo de guarda alternada, o que o difere é
que, neste caso, a alternância é feita pelos pais que mudam temporariamente de casa, ao
invés dos filhos.
É um modelo pouco prático é recebe também as mesmas críticas da guarda
alternada por levar a prole a prejuízos semelhantes.
3.1.7 Guarda Dividida, Guarda Única ou Exclusiva
Esta modalidade de guarda nada mais é do que o modelo tradicional, aquele
mais conhecido no direito brasileiro, no qual a criança permanece apenas com um dos
genitores, em residência fixa, recebendo visitas periódicas do outro genitor.
As ciências de saúde mental, ciências jurídicas e sociais criticam
consideravelmente este modelo, pois ele permite um gradual afastamento entre pais e
filhos, minando a relação com a distância e o pouco convívio. Além de não priorizar o
melhor interesse da criança.
4 A GUARDA COMPARTILHADA
Apesar da guarda compartilhada ser apenas mais um dos modelos de
guarda, a mesma será apresentada em um tópico à parte, por ser o núcleo da idéia principal
deste artigo e para que possa ser abordada de forma mais minuciosa.
12
A guarda compartilhada surgiu da necessidade de se reequilibrar os papéis
dos genitores junto à prole diante da nociva guarda uniparental, que tradicionalmente
concedida à mãe, limitava o contato da criança ao outro genitor.
Visando proteger o melhor interesse da criança, como também às
necessidades afetivas e emocionais, a guarda compartilhada revaloriza o papel da
paternidade e oferece ao menor um equilibrado desenvolvimento psicoafetivo, garantindo a
participação comum dos genitores em seu destino.
Para a psicóloga e psicanalista Maria Antonieta Pisano Motta:
A guarda conjunta deve ser vista como uma solução que incentiva ambos os
genitores a participarem igualitariamente da convivência, da educação e da
responsabilidade pela prole. Deve ser compreendida como aquela forma de
custódia em que as crianças têm uma residência principal e que define ambos os
genitores do ponto de vista legal como detentores do mesmo dever de guardar
os filhos .14
A ruptura da sociedade conjugal não precisa vir acompanhada de frustração,
com um dos genitores como vencedor, titular da guarda única ou unilateral, com
prerrogativas para representar o filho e ingressar contra o outro genitor judicialmente para
fixação de pensão alimentícia, o que acaba muitas vezes se tornando a única atribuição do
genitor não guardião.
A guarda compartilhada refere-se à possibilidade dos filhos de pais
separados serem assistidos por ambos os pais. Nela os pais têm efetiva e equivalente
autoridade legal, não só para tomar decisões importantes quanto ao bem estar dos seus
filhos, como também de conviver com esses filhos em igualdade de condições.
A guarda compartilhada possibilita que mesmo uma criança morando com a
mãe tenha a presença do pai buscando na porta da escola, levando às consultas médicas,
participando de situações do cotidiano, mantendo um convívio saudável com o genitor não
guardião. A criança pode e deve ter uma residência fixa com o genitor que tem melhores
condições para proporcionar um ambiente saudável para o desenvolvimento da criança, o
que não pode existir é uma ruptura dos laços afetivos provocada pela guarda unilateral, que
distancia e torna frio o relacionamento entre pais e filhos com o sistema apenas de visitas.
14 MOTTA, Maria Antonieta Pisano, Direito de Família e Ciências Humanas. São Paulo: Jurídica Brasileira,
Caderno de Estudos n. 2, 1998,p. 197-213.
13
4.1 A Guarda Compartilhada no Direito Comparado
A guarda compartilhada teve suas primeiras manifestações no direito inglês,
ainda na década de 60, a idéia do fracionamento encarregou à mãe aos cuidados diários dos
filhos (care and control) e recuperou ao pai o poder de dirigir a vida do menor (custody),
possibilitando assim ao pai e à mãe o exercício comum e cooperativo da autoridade
parental. Logo o modelo recebeu toda uma literatura, não só jurídica, mas também de
outras ciências correlatas.
O caso que demarcou o início de uma tendência ocorreu em 1964, caso
Clissold. Em 1972, a Court d’Appel da Inglaterra, na decisão Jussa x Jussa reconheceu o
valor da guarda conjunta quando os pais estão dispostos a cooperar.15
No direito francês a guarda compartilhada é prontamente assimilada a partir
de 1976 e da jurisprudência formada resultou na Lei 87.570, de 22 de julho de 1987,
conhecida comumente como Lei Malhuret.
Nos Estados Unidos a Guarda Compartilhada é um dos modelos de guarda
que mais cresce. As estatísticas demonstram que os pais são a ela francamente favoráveis
sob vários aspectos como o bom relacionamento de ambos os genitores com os filhos, o
desenvolvimento psicológico das crianças sem a perda de referencial dos próprios pais, e a
segurança dos genitores diante da própria prole por estarem ambos em pé de igualdade em
direitos e deveres. Já no direito canadense a formulação típica de guarda após o divórcio é
a sole custody a um dos pais, concedendo-se ao outro o direito de visita. A guarda
compartilhada só se confere quando os pais manifestam por essa opção, por meio de
acordo, para atender os interesses dos pais e dos filhos. Se o acordo não é possível o
Tribunal decide por eles.
4.1 A Guarda Compartilhada no Direito Brasileiro
A guarda compartilhada no direito brasileiro não possui uma
regulamentação expressa, contudo não é vedada na legislação brasileira e em razão de se
preservar o melhor interesse da criança e acompanhar uma evolução já alcançada pelo
direito alienígena, a mesma já vem sendo adotada no Brasil e já temos jurisprudência
consolidada a favor da adoção do referido modelo.
15 LEITE, Eduardo de Oliveira. A igualdade de direitos entre o homem e a mulher face à nova Constituição.
Ajuris. Porto Alegre, n. 61, p. 19-36, jul. 1994.
14
A guarda compartilhada é possível no Brasil com a previsão nos seguintes
diplomas legais:
Código Civil Brasileiro
Art. 1.583 do No caso de dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal pela
separação judicial por mútuo consentimento ou pelo divórcio direto consensual,
observar-se-á o que os cônjuges acordarem sobre a guarda dos filhos.16
Estatuto da Criança e do Adolescente:
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos
menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer
cumprir as determinações judiciais.17
Constituição Federal :
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.18
Em todos os artigos de lei mencionados encontramos o dever da guarda
relacionada diretamente aos pais ou a família, sem fazer qualquer distinção entre os
cônjuges, sendo colocada como dever comum entre ambos.
Apesar da ausência de legislação expressa, a jurisprudência brasileira
apresenta diversos casos de deferimento de guarda compartilhada, dentre os quais foram
relacionadas algumas ementas de decisões proferidas no Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul:
EMENTA: GUARDA COMPARTILHADA. CABIMETO. Tendo em vista que
o pai trabalha no mesmo prédio que a infante, possuindo um contato diário com
a filha, imperioso se mostra que as visitas se realizem de forma livre, uma vez
que a própria genitora transige com a possibilidade de ampliação das visitas.
Agravo provido, por maioria, vencido o Relator.(SEGREDO DE JUSTIÇA)
Agravo de Instrumento Nº 70018264713, Sétima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator Vencido: Sérgio de Vasconcellos Chaves, Redator do
Acórdão: Maria Berenice dias, Julgado em 11/04/2007).19
EMENTA: GUARDA DE CRIANÇA. ALTERALÇAO. RECENTE ACORDO
FIRMADO ENTRE OS GENITORES. Tendo os litigantes recentemente
estabelecido a guarda compartilhada em acordo devidamente homologado em
juízo, descabe nova alteração de guarda para a genitora, de forma açodada, sem
prévia realização de estudo social e de avaliação psicológica. Negado
provimento ao agravo. (SEGREDO DE JUSTIÇA) - DECISÃO
MONOCRÁTICA - (Agravo de Instrumento Nº 70018888537, Sétima Câmara
16 BRASIL. Código Civil (2002), Vademecum Saraiva, São Paulo: Saraiva, 2.ed.,2006, p. 292.
17 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1968. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá
outras providências. Vademecum Saraiva, São Paulo: Saraiva, 2 .ed., 2006 p. 1026.
18 BRASIL. Constituição Federal (1988), Vademecum Saraiva, São Paulo: Saraiva, 2.ed., 2006, p.68.
19 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento Nº
70018264713. Relator: Sérgio de Vasconcellos Chaves, 11 de abril de 2007. Disponível em:
15
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Maria Berenice Dias , Julgado em
12/03/2007).20
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO JUDICIAL.
ALTERAÇÃO LIMINAR DE GUARDA DOS FILHOS. INDEFERIMENTO.
Mostra-se temerária alteração na guarda, mormente quando já se encontra a
guarda compartilhada entre os genitores do menor. Ademais, há questões ainda
a serem dirimidas perante o juízo de primeiro grau. Partindo-se do princípio que
é o interesse do menor que deve ser resguardado, melhor é aguardar que
elementos de convicção mais concretos venham aos autos. NEGADO
PROVIMENTO EM MONOCRÁTICA. (SEGREDO DE JUSTIÇA), (Agravo
de instrumento nº 70013731500, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 09/12/2005). 21
Observa-se das decisões proferidas acima a preocupação em defender o
melhor interesse da criança, proporcionando ao genitor não-guardião a possibilidade do
horário de visitas de forma livre, realizado somente em virtude do instituto da guarda
compartilhada, fato apontado na primeira ementa. Já nas ementas seguintes ficou
demonstrado claramente a importância e a validade da guarda compartilhada como melhor
solução para a criança ou adolescente, de forma que após a aprovação da mesma, essa só
poderá ser modificada se demonstrado prejuízo para o menor, não sendo cabível a
alteração somente baseada na vontade dos pais, o que denota mais uma vez que o interesse
da criança vem em primeiro lugar.
Encontra-se tramitando no Congresso Nacional o Projeto de Lei Nº 6.350,
de 2002, de autoria do Deputado Tilden Santiago que trata sobre o tema da guarda
compartilhada. Foi noticiado pelo Jornal O Globo, em 23/10/200722, que o referido projeto
já foi aprovado pelo Senado Federal, devendo seguir para aprovação final na Câmara dos
Deputados. Segue abaixo as principais transformações trazidas pelo referido projeto:
[...].Art. 1º. Esta Lei institui a possibilidade de guarda
compartilhada dos filhos menores pelos pais em caso de separação judicial ou
divórcio.
Art.* 2º . O art. 1.583 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
Art.1.583.
............................................................................
§ 1º Na audiência de conciliação, o juiz explicará para as partes o
significado da guarda partilhada, incentivando a adoção desse sistema.
20 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento Nº
70018888537 Relatora: Maria Berenice Dias, 12 de março de 2007. Disponível em:
Acesso em: 10 de novembro de 2007.
21 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento Nº
70018888537 Relatora: Maria Berenice Dias, 12 de março de 2007. Disponível em:
Acesso em: 10 de novembro de 2007.
22 Senado Federal aprova lei que prevê guarda compartilhada de filhos por pais separados
16
§ 2º Guarda compartilhada é o sistema de corresponsabilização dos pais
nos direitos e deveres decorrentes do poder familiar para garantir a guarda
material, educacional, social e de bem estar dos filhos.
§ 3º Os termos do sistema de guarda compartilhada, deverão ser
estabelecidos de comum acordo pelos pais.
Art. 3º. O caput do art. 1584 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de
2002, passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando o parágrafo único
em §1º:
“Art. 1584 Decretada a separação judicial ou divórcio, sem que haja entre
as partes acordo quanto à guarda dos filhos, ela será atribuída segundo o
interesse dos filhos, incluído o sistema da guarda compartilhada.
§1º
............................................................................
§2º Deverá ser nomeada equipe interdisciplinar composta por psicólogo,
assistente social e pedagogo, que encaminhará relatório com informações
psicossociais dos pais e da criança, incorporada a sugestão dos pais,
objetivando subsidiar o juiz, no prazo máximo de 60 dias.
§3º Na impossibilidade do cumprimento do §2º deste artigo, o Judiciário
utilizar-se-á do Conselho Tutelar referente a jurisdição da Comarca para
emitir relatório psicossocial, no prazo máximo de 60 dias.
Art. 4. ºEsta Lei entra em vigor na data de sua publicação.23
4.2 A Finalidade Psicológica da Guarda Compartilhada
A guarda compartilhada em sua proposta demonstra uma preocupação que
vai muito além da manutenção das necessidades materiais, mas preocupa-se em alcançar
também o bem-estar psicológico e emocional da criança ou adolescente e por conseqüência
da família.
A criança como pessoa de direitos requer cuidados que vai muito além de
uma boa escola, alimentação e plano de saúde. A criança como ser dotado de capacidade
intelectual, carente de cuidados psicológicos e afetivos necessita de referenciais bem
definidos ocupando os papéis de pai e mãe.
O fim do relacionamento dos pais não pode significar na ausência de um
dos genitores na vida do filho, o que poderá resultar em perdas incalculáveis para a
formação da personalidade da criança, fruto desse relacionamento.
A criança precisa de segurança, saber sua origem e ter parâmetros do que
vem a ser uma família, pois essa vem ser o primeiro instituto responsável pela formação do
indivíduo que será lançado na sociedade.
O divórcio ou a dissolução da união estável não deve significar o
rompimento dos laços familiares entre pais e filhos. E a manutenção desses laços requer
23 CAMPÊLO, Cemir. Projeto de Lei sobre Guarda Compartilhada. Disponível em:
17
um cuidado muito simples, a convivência. Convivência não custa dinheiro, não depende da
condição sócio-econômica ou financeira, mas requer somente amor e boa vontade em
participar da rotina dos filhos. Obviamente exige dos pais um relacionamento saudável que
permita esse contato, tanto que a guarda compartilhada não seria recomendada aos pais que
possuem um relacionamento desequilibrado com histórico de agressão física.
A guarda compartilhada propõe uma evolução nas relações jurídicas, pois
utiliza o instrumento da lei para resguardar direitos que envolvem como tema principal a
proteger o equilíbrio psicológico e emocional da criança, fator fundamental para a
formação da personalidade.
A regulamentação do instituo da guarda compartilhada no direito brasileiro
é algo que merece urgência, pois a falta de norma no ordenamento gera uma insegurança
jurídica e, apesar da existência de uma jurisprudência favorável, muitos juízes são
temerários na sua aplicação em razão da ausência de definições muito claras.
Assim, a aprovação do projeto de lei pelo Congresso Nacional que versa
sobre o assunto, o qual foi mencionado no tópico anterior, pacificaria a questão nos
tribunais brasileiros e permitiria à sociedade brasileira o fortalecimento da família,
instituição essa que nunca deixará de existir, nem após surgimento do divórcio ou de
qualquer outro fator que queira afetar os seus pilares.
A família não termina quando algum membro sai de casa, mesmo porque os
filhos adultos não perdem o vínculo com os pais quando vão embora para seguir o seu
caminho. Da mesma forma não deverá ocorrer quando um dos pais sair de casa, motivado
pelo divórcio.
CONCLUSÃO
O estudo realizado apresentou em sua introdução a evolução da família
ocidental, suas transformações através dos tempos, os direitos adquiridos pela mulher, até
atingir questões que versam sobre os problemas advindos com o surgimento do divórcio e
da separação, no que se refere à proteção dos interesses da criança e do adolescente.
Demonstrou que a proteção do melhor interesse criança vai muito além de
alimentação, educação e saúde, mas inclui a preservação e manutenção dos laços afetivos
com os genitores de forma justa e igualitária. E apresentou a guarda compartilhada como o
melhor caminho, desde que existam os requisitos necessários para a sua aplicação, pois
18
apesar da convivência com os pais ser a forma ideal para sustentar uma boa formação de
uma criança, isso não é possível sem que haja um relacionamento cordial entre ambos.
O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal já
asseguram à criança e ao adolescente o direito de liberdade, o respeito à dignidade humana,
como pessoas que se encontram em desenvolvimento e formação, sendo inclusive sujeitos
de direitos civis. Contudo, para o alcance desse objetivo é preciso que o Estado esteja
preparado para dar o suporte legal que a guarda compartilhada necessita, e assim venha a
ser consolidada no ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, é necessária a sua
divulgação para que os pais tenham consciência de tal possibilidade e o bem que ela pode
fazer à família e à criança.
A guarda compartilhada com cooperação mútua dos pais é demonstração de
amor que resulta em crescimento saudável e feliz para o filho.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BEVILÁQUA, Clóvis. Direito de Família. 7a ed. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 1943;
BITTENCOURT, Edgar de Moura, Guarda de filhos. São Paulo: Universitária do Direito,
1984;
BRASIL. Código Civil (2002), Vademecum Saraiva, São Paulo: Saraiva, 2.ed.,2006;
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1968. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências. Vademecum Saraiva, São Paulo: Saraiva, 2 .ed.,
2006;
CAMPÊLO, Cemir. Projeto de Lei sobre Guarda Compartilhada. Disponível em:
novembro de 2005;
CURY, Munir; Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, coordenador, São Paulo,
Malheiros, 2006;
19
GRISARD FILHO, Waldyr, Guarda Compartilhada: um novo modelo de
responsabilidade parental, 3. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005;
LAURIA, Flávio Guimarães, A Regulamentação de Visitas e o Princípio do Melhor
Interesse da Criança. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2002;
LEITE, Eduardo de Oliveira. A igualdade de direitos entre o homem e a mulher face à
nova Constituição. Ajuris. Porto Alegre, n. 61, p. 19-36, jul. 1994;
.
MOTTA, Maria Antonieta Pisano, Direito de Família e Ciências Humanas. São Paulo:
Jurídica Brasileira, Caderno de Estudos n. 2, 1998;
RAMOS, Patrícia Pimentel de Oliveira Chambers, O Poder familiar e a Guarda
Compartilhada sob o enfoque dos novos paradigmas do Direito de Família, Rio de
Janeiro, Lúmen Júris, 2005;
SALLES, Karen Ribeiro Pacheco Nioac de. Guarda Compartilhada. Rio de Janeiro:
Lúmen Júris, 2001.
20








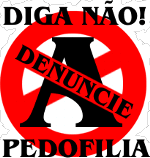





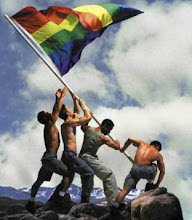


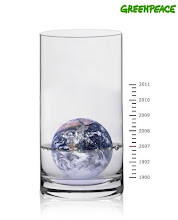

Nenhum comentário:
Postar um comentário